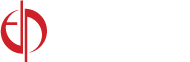Carla Fernandes (EBP/AMP) O tema do XXV Encontro Brasileiro do Campo Freudiano abre um campo…
A segregação enraizada na fraternidade do corpo
Jésus Santiago (AME da EBP/AMP)
A religião define-se, em Freud, como uma experiência que tem como condição a renúncia pulsional (Triebversizicht), que se constitui como o terreno sob o qual floresce o que é essencial na subjetividade do religioso, ou seja, a dimensão da crença. A crença (Glauben) aparece problematizada a partir do que se conceitua como ilusão (Illusion), visto que, nesta, a realização de desejo passa para o primeiro plano e, assim fazendo-se, o religioso desiste de sua relação com a realidade e mesmo da comprovação de sua veracidade.[1] A delimitação do elemento subjetivo da “ilusão” exige o pressuposto do diagnóstico nada otimista do mal-estar na cultura, do qual se deduzem impasses e fracassos para estabelecer o laço social civilizado. Isso se explica pelos encontros sucessivos do “trabalho da cultura”[2] (Kulturarbeit) com a Anankê (necessidade), concebida como a Deusa da inevitabilidade, personificação do real que emerge no caráter, ao mesmo tempo, necessário e imprevisível do destino. Esse fracasso do “trabalho da cultura” sobre os seres falantes se formula, segundo Freud, como a impossibilidade de domínio das forças que provêm da “realidade exterior” (Anankê) e da extração destas de seus bens para a satisfação das necessidades humanas.[3]
A religião em face da necessidade de discurso (Anankê)
Enquanto discurso, a religião é concebida como resposta a esse real que se manifesta no fator de impotência e de desamparo dos humanos, frente ao trabalho impossível do Outro da cultura (Logos: razão).[4] Para Freud, a cultura se mostra inapta para dar conta do que advém como “a implacável lei da natureza”[5], que ele próprio ousou nomear por meio da divindade grega denominada Anankê. A qualificação dessa tendência implacável segundo a figura de uma lei peremptória e impositiva não nos autoriza, por outro lado, a reduzi-la a uma mera necessidade proveniente da natureza. Quando o princípio do prazer se mostra insuficiente para interpretar os fenômenos diversos da vida civilizada, a Anankê emerge, no texto de Freud, como a vontade de um Deus que se incrusta no homem por meio das “potências, as mais obscuras do destino”[6].
Lacan, porém, dá prosseguimento às construções freudianas de “O futuro de uma ilusão”[7] segundo uma outra perspectiva, ao propor que a Anankê apenas tem o seu começo no ser falante e tudo o que se produz a partir dela é sempre obra do discurso.[8] Para além de uma divindade que encarna a vontade de Deuses furiosos e obscuros, a Anankê se impõe como um atributo do destino no ser falante e, portanto, ela emerge como puro automatismo de repetição, inerente à pulsão de morte, isto é, como “necessidade do discurso”[9]. Em outros termos, a Anankê não está fora do ser falante, como se ela fosse uma representante da realidade exterior ou de uma suposta lei da natureza. A Anankê é, em si mesma e por si mesma, a própria repetição, ou seja, em sua relação moebiana com o real, ela faz parte da vida que se demonstra ser apenas “necessidade de discurso”[10]. A religião só tem lugar na vida dos homens em razão de que são dotados de parcos recursos para resistir ao que se concebe como a pulsão de morte e, por consequência, às inúmeras contingências advindas da insistência repetitiva do real.[11] Enfim, para não sucumbirem à lei implacável da Anankê – necessidade do retorno ao zero do inanimado[12] –, é exigido deles esse aparelho dos semblantes que são os discursos.
Assim, há um desacordo e mesmo uma discordância fundamental entre os aparelhos de discurso e a insistência repetitiva do real, sendo que a crença religiosa se ergue em função do espaço de descontinuidade entre elas. A ilusão de que existe um Outro onipotente e absoluto – Deus-Pai – é, no fundo, uma denegação do que foi perdido para sempre e que se presentifica na impossibilidade de os discursos próprios ao laço civilizatório abarcarem tudo aquilo que advém dessa figura sem rosto e enigmática do destino que é a Anankê. Se a crença religiosa existe para preservar a ilusão dos homens na onipotência do Outro, a religião apenas se funda em torno dessa perda fundamental, considerada como a presença do real contingente no âmbito do laço social.
Operação discursiva de dar sentido ao real
Logo, Freud constrói o que ele mesmo nomeia como o “mito científico do pai da horda originária”[13] para dar conta desse efeito da perda originária sobre os homens – verdadeira figura do furo no real – que, segundo ele, é a fonte última da crença religiosa. Esse mito relata que, uma vez consumada a morte do pai, os filhos, tomados de remorso, arrumam-se para dar vida ao morto. Para dar vida ao pai morto, Lacan propõe, inicialmente, nomeá-lo como o pai simbólico que, em momentos cruciais da existência, assume a vestimenta do pai imaginário, o qual é, nada mais, nada menos, que a ressurgência fantasmática do pai real do estado de natureza própria da horda primitiva. A crença religiosa se apresenta, assim, referida por um Deus-Pai que, sob as suas diversas versões – inclusive a do pai imaginário –, torna possível manter a ilusão de poder recuperar uma parte do gozo de si, supostamente perdido.
Lacan, no entanto, pretende ir além da concepção freudiana da religião como sintoma no sentido do retorno do recalcado, considerando que a figura de Deus-Pai, nesse caso, restringe-se a ser um substituto ilusório do pai terrível e onipotente. O processo que a psicanálise pode levar adiante acerca do discurso religioso busca tomá-lo como sintoma, não apenas no sentido de uma formação substitutiva, mas, sobretudo, interrogar as relações do discurso religioso com o real. Com efeito, a religião é sintoma, na medida em que se constitui como um discurso em condições de lidar com as irrupções do real nas falhas do saber e por meio da conjunção entre a verdade e o sentido. Na qualidade de discurso, ela visa a curar os homens do impossível de suportar, próprio ao que, na vida civilizada, não funciona, isto é, fazer com que os homens não percebam isso que não funciona.[14] A esse respeito, em “O triunfo da religião”[15], Lacan fornece um esclarecimento essencial, pois é preciso, segundo ele, diferenciar o que funciona do que não funciona. Se “o que funciona é o mundo, o que não funciona é o real”[16]. Apesar da presença maciça da ciência no mundo, isso que não funciona se estende cada vez mais e se intromete em nossas vidas e, por isso mesmo, a religião é convocada para apaziguar os corações.[17]
Se a ciência introduz um monte de coisas perturbadoras na vida de todos, a religião encontra a sua chance e seus recursos em seu ato de conferir sentido às idas e vindas do que não funciona. Para Lacan, o essencial da religião é sua eficácia em dar sentido a qualquer coisa por meio de uma operação discursiva que faz equivaler o sentido com a verdade. Em outros termos, o sentido da crença religiosa apenas se sustenta se ele é vivido como verdadeiro. Como vamos tratar mais adiante, é somente ao reconhecer a relação do sujeito com a verdade que se pôde afirmar que desde “o seu começo, tudo o que é religião consiste em dar sentido às coisas que outrora eram coisas naturais”[18]. Por essa razão, Lacan emprega, de forma arriscada, a noção de “religião verdadeira”[19] para o cristianismo, tendo em vista que seu aparelho de semblantes manifesta uma grande potência em produzir sentido. Afirmar que existe uma religião verdadeira não quer dizer que exista A religião. Ou seja, as religiões existem, uma a uma, e fazem sintoma de um modo diverso uma das outras. Evidentemente que, diante disso, cada religião vê a si própria como verdadeira e vê as outras como parcialmente ou totalmente falsas. Se as religiões constituem uma variedade em que cada uma faz sintoma à sua maneira, sendo que cada uma se vê como verdadeira em relação às outras, por que, então, afirmar que existe uma religião verdadeira?
Da ilusão à verdade
Em recente entrevista, Jacques-Alain Miller, na tentativa de esclarecer o problema das relações da religião com a verdade, pergunta ao filósofo Rémi Brague, especialista na filosofia da religião: “Lacan apenas reconhecia ao catolicismo a qualidade de religião propriamente dita. O que você acha disto?”[20]. O filósofo responde que
[…]há bastante verdade nessa ideia de Lacan, mesmo se não estou seguro sobre a compreensão exata do que ele quis dizer. Sob o meu ponto de vista, eu diria que o cristianismo (católico, mas também protestante ou ortodoxo) é talvez a única religião que não seja nada mais que uma religião. As religiões gregas ou romanas eram aquelas da cidade e, logo, inseparáveis da política. O judaísmo é certamente uma religião, mas também um povo. O islã é também uma religião, mas também uma lei, um código moral. O cristianismo não acrescenta ao Decálogo novos mandamentos que seriam próprios, pois se contenta com a moral comum.[21]
Tudo indica que a resposta do filósofo comprova a tese acerca do modo variado com o qual as religiões se constituem como sintoma e, por consequência, como resposta ao real. Justamente, como resposta ao real, a religião é vista para além do fator alienante da ilusão, na medida em que ela é o terreno no qual se capta efeitos de verdade, tais como a sua condição de gerar o pertencimento a um povo, ou mesmo de produzir leis que funcionem como um código moral disponível para a convivência humana.
Se Lacan opta por tratar o fenômeno religioso por meio da questão da verdade é porque sabe que o fato decisivo para aquele que crê e adere, por escolha ou por tradição, a uma religião, diz respeito ao objeto mesmo de sua crença. Ao fazer uso do verdadeiro para qualificar o cristianismo, Lacan, a meu ver, não busca estabelecer uma oposição entre uma crença que seria falsa ou fictícia e, outra, que seria verdadeira. A verdade de uma crença, tendo ela surgido no interior da religião judaica, cristã, ou muçulmana, liga-se à verdade suposta do objeto da crença, presente em cada uma delas. Essa determinação fundamental da crença sobre ela própria remete ao caráter intrínseco do discurso religioso, de tal modo que cada religião se coloca, para si mesma, como verdadeira. Com a ênfase na questão da verdade, rompe-se com o silêncio de uma questão nevrálgica e fundamental para os rumos e o futuro da crença religiosa, pois, como afirma o filósofo, a religião cristã é a única que não precisou de outros recursos além da própria crença religiosa. Por isso mesmo, ela adquiriu uma certa potência para conferir sentido às ocorrências contingenciais do real.
O próprio Freud, em “O mal estar da cultura”[22], dá provas de que é preciso ir além de sua abordagem da crença religiosa centrada no fator imaginário da ilusão, na medida em que procura defini-la como uma “construção substitutiva”[23] (Hilfskonstruktion), que permite ao homem suportar as pressões da vida civilizada. Isso quer dizer que a crença religiosa se suporta sob a forma de uma aparelhagem de semblantes que, em sua pretensão de responder sobre o sentido da vida, visa a tratar o real do sofrimento humano. Para além da questão da ilusão, em que a religião aparece como fator de alienação, Lacan demonstra que é preciso enxergá-la como uma modalidade de discurso cujo centro de gravidade são seus efeitos de verdade. Como discurso que captura sujeitos por meio de seus efeitos de verdade, opera-se um deslocamento na abordagem da crença como ilusão, pois esta deixa de ser um atributo exclusivo da religião. Se todo discurso é uma fonte geradora de efeitos de verdade, é inevitável admitir a presença, neles, do componente da crença.
É nesse sentido que, ao se perguntar sobre os efeitos de verdade do discurso religioso, Lacan é conduzido a tomar como pressuposto a disjunção entre crença e religião. A crença faz parte de todas as formas de discurso, inclusive, e, sobretudo, do discurso da ciência. O cientista, para Lacan, acredita em Deus sob o modo do sujeito-suposto-saber, pois ele é portador da crença de que o real é regido por leis e, por consequência, nele, aloja-se um saber. A sua insistência em mostrar que “todo mundo é religioso, mesmo os ateus”[24], é uma prova de que não há equivalência entre crença e religião. Em função dessa disjunção, as formulações que o ensino de Lacan promove sobre a religião levam em conta a sua confrontação com outras formas de discursos, como é o caso da magia, da ciência e da psicanálise. Em “A ciência e a verdade”, a verdade é interrogada na qualidade de causa, não no sentido da “causa como categoria lógica, mas como causando todo efeito”[25]. Com o advento do discurso da ciência, institui-se, de modo prevalente, uma concepção da verdade como causa, pois, nesse caso, a obtenção do saber exige colocar em suspenso a verdade confundida com a ordem do sentido. Esse ponto, de que a verdade em si não corresponde a um saber, ou seja, a separação entre o que pertence ao domínio da verdade e ao do sentido, é o que justifica a ruptura entre a ciência e outras formas de discursos, salvo o discurso analítico. A esse respeito, cabe acrescentar que a separação entre verdade e saber é o que torna a existência da psicanálise dependente da ciência. Vale dizer que, tanto a ciência, quanto a psicanálise, tomam a verdade como causa, ou seja, ao contrário da religião, há nelas “separação de poderes entre a verdade como causa e o saber posto em prática”[26]. No tocante à prática analítica, a presentificação da verdade como causa se deduz da própria concepção do tratamento do sujeito neurótico, na medida em que a verdade de seu sofrimento é ter a verdade como causa.[27]
Por conseguinte, na tradição operatória do sujeito religioso, a questão da verdade aparece de modo radicalmente distinto. O ponto de partida da religião é tomar como verdade o Deus que se revela, sem, no entanto, torná-lo visível, reservando a sua manifestação para um tempo futuro que se anuncia, embora indeterminado, motivando, no religioso, a espera infindável pelo Messias salvador. A verdade como revelação está no posto de comando da religião, visto que não se colocam em questão as causas do desvelamento da presença escondida de Deus que, segundo a tradição judaica, manifesta-se aos patriarcas e aos profetas como o Deus único. O mesmo acontece com o cristianismo, ainda que a manifestação de Deus se dê como realizada na pessoa de Jesus Cristo, que “abre o segredo escondido em suas profundezas, desde a origem dos tempos e agora desvelado”[28]. Se a verdade da revelação se realiza na figura do Messias – concebido como o verbo encarnado de Deus –, ela se abre também para a manifestação última de Deus, simbolizada pelo retorno do Cristo no dia do Juízo Final.
Ao alojar-se no coração da tradição judaico-cristã, a revelação é exemplar do quanto a religião denega o que dá fundamento ao sujeito da ciência que, ao colocar a verdade como causa, torna possível aceder ao saber que reside no real. Se, na religião, a verdade apresenta-se como revelação, ela é, portanto, remetida – diz Lacan – “a fins escatológicos, o que quer dizer que ela aparece apenas como causa final no sentido de ser reportada a um juízo de fim de mundo”[29]. Ao fazê-lo, o religioso interrompe o seu próprio acesso à verdade como causa, entregando a Deus a incumbência da causa. Por isso, ele é levado a atribuir a Deus a causa de seu desejo, o que é propriamente uma posição sacrificial, em que a incidência da renúncia pulsional se mostra com toda a sua força e alcance. É o sujeito-suposto-saber que se apresenta nessa submissão do religioso ao desejo suposto de um Deus que, por conseguinte, instala a verdade em um status de culpa.[30]
Pelo fato de a verdade da religião estar mergulhada nas águas do sentimento de culpa é que se pode demonstrar que a fraternidade é o mais importante efeito de verdade do discurso religioso. É a eficácia da culpabilidade extraída do mito freudiano – do assassinato da figura primordial do pai da horda, todo poderoso e gozador, por seus filhos – que torna possível a instituição de um contrato social baseado nos sentimentos de fraternidade. Desde então, a perda de gozo proveniente da extinção desse lugar de exceção do pai – perda que, em Freud, aparece figurada pelo relato mítico da interdição – sobrevém por meio da culpabilidade ocasionada pelo crime primordial. O sentimento de culpa é eficaz porque, sobre a base dessa perda de gozo, institui-se um regime de fraternidade entre os homens, cujo alicerce é a identificação ao pai morto. Como se sabe, Freud fez muita questão de que a história darwiniana do assassinato do pai tivesse efetivamente sucedido; porém, o que importa frisar nesse mito de “Totem e tabu” é que esse “assassinato do pai é a condição do gozo”[31], no sentido de que a existência do gozo supõe uma perda ou uma limitação. A comunidade fraterna se funda em torno da identificação ao pai morto. Isto é, o mito quer dizer que o gozo apenas será possível se houver uma perda ou limitação, e é por meio dessa perda de gozo que “os irmãos se descobrem irmãos”[32].
A crença na fraternidade do corpo e a segregação ramificada
Em “Psicologia das massas e análise do Eu”[33], segundo referência explícita à religião cristã, Freud retorna ao problema das razões que levam a “massa fraternal”[34] a se manter coesa após a morte do pai. Nesse caso, a fraternidade desempenha um papel crucial na formação das massas cristãs, tendo em vista sua tendência a se reunir em comunidades em torno de um líder, figura do pai morto – Jesus Cristo –, que vem no lugar do Ideal do Eu. A fraternidade se localiza mais aquém da identificação vertical do religioso com o Cristo, na medida em que é exigido do cristão “amar os outros cristãos como Cristo os amou”[35]. Enquanto uma identificação estritamente horizontal entre os irmãos, a fraternidade adquire uma importância tal que o próprio Freud observa que é possível ser um “bom cristão” sem se estar identificado ao Cristo, mas, como ele, saber acolher com amor todos os seus irmãos.[36]
Ainda em “Psicologia das massas e análise do Eu”[37], demonstra-se que é sempre possível a formação de massas, para além do ideal fraterno do amor entre os irmãos, ou seja, grande parte dos religiosos pode estabelecer um laço comunitário entre si, por meio dessa característica inerente à condição humana, que é a sua “prontidão para o ódio”[38]. É o que se verifica nas desavenças e nos conflitos religiosos, em que o efeito unificador das comunidades se faz para além do amor ao Pai e em função da tendência mortífera do ódio. É o paradoxo que Freud assinala em “O mal-estar na cultura”[39], pois o propósito do apóstolo Paulo, de fazer do “amor universal pela humanidade” o fundamento de sua comunidade cristã, não evitou a matança dos judeus e a extrema intolerância e ódio contra aqueles que permaneceram de fora de sua crença religiosa.[40] A existência do povo judeu, ao longo dos séculos, e a concomitância da ação segregativa que sempre lhe foi exercida e executada são uma indicação evidente da perda e da falha irredutível que comporta o gozo e do quanto essa perda não é tratável segundo uma política do universal, que se encarna no ideal da fraternidade.
É preciso levar em conta o quanto a cultura, nos dias de hoje, se mostra cada vez mais atingida pelas mutações que têm lugar no laço social e que concernem à decomposição dos grandes mitos que gravitavam em torno das diversas figuras do patriarcado. Destaca-se, aqui, como consequência da atomização do social, o múltiplo das comunidades e das identificações que, nesse contexto, tornam-se fluidas, irredutíveis umas às outras e, portanto, segregativas. Diante da ausência dos operadores externos e antinômicos, como é o caso do mito do pai e das fortes identificações que daí advinham, prevalecem os excessos e o desvario do gozo que obrigam o sujeito a recorrer a uma identidade e, ao mesmo tempo, rejeitar para fora de sua comunidade aquele que se considera portador de um gozo distinto do seu. Se uma comunidade se constitui sob a base de uma identidade segregativa, é de se esperar que o fator unificador do líder se torne menos importante e mesmo dispensável.
Para a tentação fundamentalista das religiões, “o crime fundador não é o assassinato do pai, mas a vontade de morte daquele que encarna o gozo que eu rejeito e odeio”[41]. Por essa razão, Lacan afirma que o racismo “se enraíza no corpo, na fraternidade do corpo”[42], isto é, na crença da existência de um laço social que seja comunitário e que tenha valor identificatório para os seus membros. Esse tipo de laço social, baseado na identificação comunitária, narcísica, que, enquanto tal, é uma identificação ao semelhante, só pode fundar-se sobre a exclusão do corpo e do gozo de um outro. Uma identidade que se quer consistente está condenada a se apoiar sobre uma demarcação face ao que, apesar de estar bem próxima, é percebida como estrangeira. A promoção de um laço social identificatório só pode produzir efeitos de segregação que, no fundo, remontam ao único fundamento da fraternidade, que é o “de estarmos isolados juntos, isolados do resto”[43].
A obstinação do discurso religioso com o amor universal entre os irmãos recobre algo que apenas o psicanalista está em condições de apreender, a saber, isso que Lacan dá como a única definição possível desse efeito de verdade que é a fraternidade: o fato de estarmos isolados juntos, isolados do resto. Assim, o triunfo da religião exige o componente do enorme dispêndio libidinal, para atestar que somos todos irmãos. A fraternidade é esse esforço obstinado por parte do discurso religioso para nos convencer de que somos uma comunidade universal de irmãos – obstinação que, para Lacan, é uma evidência de que não o somos.[44] A acepção lacaniana da fraternidade é, antes de tudo, a crítica da crença no universalismo, que se faz presente nos espectros políticos que clamam por “uma igualdade fundamental dos cidadãos, impondo-se à hierarquia tradicional, desconstruindo-a”[45].
O escrito “A agressividade em psicanálise”[46] conclui pela afirmação surpreendente de que, frente à ideologia da igualdade universal, a única fraternidade possível é a que reabre “o caminho de seu sentido numa fraternidade discreta em relação à qual sempre somos por demais desiguais”[47]. O uso do qualificativo “discreto” interessa de perto à prática analítica de desidentificação do sujeito, tendo em vista que o funcionamento menos consistente do laço social abranda seus efeitos de grupo e os processos de massificação. No sentido matemático, as estruturas algébricas discretas, que são constituídas por partes distintas, opõem-se às estruturas contínuas, que são contínuas e sem mudanças bruscas. Ao visar à fraternidade discreta, reforça-se a tese de que não somos irmãos por sermos filhos de Deus-Pai, somos irmãos por sermos “filhos do discurso”[48] e, enquanto tais, não somos “massas”, mas partes distintas, dotadas de singularidade e alteridade.
A religião nos tempos da evaporação do pai não abandona o princípio do universalismo, em que a força do ideal da fraternidade vem homogeneizar as relações entre os homens. E o mais alarmante é que essa presença do religioso se insinua pela via segregatória das formas fundamentalistas do pior. Lacan privilegia o fato de que o irmão, nas suas formas atuais do novo evangelismo cristão, está em todos os cantos da cidade, pois, tendo sua origem na versão latina do fraternitas, ajunta-se aos ideais fluidos de liberdade e igualdade. A ideia do irmão, tão solidamente instalada como uma verdade dos propósitos últimos da religião, ao longo dos séculos, “mantém tamponado o seu retorno sobre o que se toma como o suporte do laço social”[49], que é a solidão do Um, concebida como parte intrínseca do falasser. Se a solidão do Um – correlato da não relação sexual – é o que dá suporte ao laço social, ela é também o que faz a nossa época profundamente marcada pela segregação.
O nosso século é constituído por formas de segregação renomeadas por Lacan como “segregação ramificada, reforçada, que multiplica as barreiras”[50] para que o laço social possa ter lugar. Essa segregação ramificada decorre, tanto da evaporação do pai, quanto do fator desagregador do discurso da ciência, que não é mais a segregação de outrora. É inegável que a religião toca as estruturas mais profundas do pai, mas, nos últimos tempos, a evaporação do pai deixa vestígio e cicatriz na própria crença, gerando o fenômeno atual da segregação religiosa fundamentalista. Com a leitura do Seminário, livro 19: …ou pior[51], vimos que a fraternidade é um de seus personagens principais, pois, a partir dela, postula-se que a crença religiosa é uma resposta à inexistência da relação sexual. A fraternidade, porém, com sua pretensão dos bons sentimentos universalistas de que somos todos irmãos, enraíza-se no corpo e promove o racismo. Ao longo das lições do Seminário, é notória a tensão entre “um dizer ou o pior”: se o dizer se apresenta do lado do impossível da relação sexual, o pior, por sua vez, recobre as tentativas de fazer existir essa relação. O verdadeiro nervo da crença na fraternidade religiosa é que ela pode, facilmente, por seu apego inabalável ao saber sobre quem é puro (sagrado) ou impuro, ou sobre quem está dentro ou fora (herético) de suas verdades, desviar-se ao pior. O discurso analítico mantém a sua aposta no dizer sobre o impossível da relação sexual, para escapar do pior. Enfim, crer na chance do dizer da solidão do Um não leva ao pior.
[1] Freud, S. (1927). “O futuro de uma ilusão”. In: Obras incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica, 2020, p. 264.
[2] Idem, p. 245.
[3] Idem, p. 234.
[4] Idem, p. 290.
[5] Freud, S. (1920). “Além do princípio do prazer”. In: Obras incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica, 2021, p. 151.
[6] Freud, S. (1901) “Psicopatologia da vida cotidiana – Sobre esquecimentos, lapsos verbais, ações equivocadas, superstições e erros”. In: Obras incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica, 2023, p. 286.
[7] Freud, S. (1927). “O futuro de uma ilusão”. Op. cit.
[8] Lacan, J. (1971-72). O Seminário, livro 19: …ou pior. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2012, p. 49.
[9] Idem, p. 51.
[10] Idem, p. 51.
[11] “Freud […] articula que a repetição fundamental do desenvolvimento da vida não seja mais que a derivação de uma pulsão compacta, abissal, que ele chama, nesse nível, de pulsão de morte, e onde nada mais resta senão essa anankê, a necessidade do retorno ao zero do inanimado” (Id. (1960-61). Seminário, livro 8: a transferência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992, p. 188.
[12] Idem.
[13] Freud, S. (1921). “Psicologia das massas e análise do Eu”. In: Obras incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica, 2020, p. 215.
[14] Lacan, J. (1974) “O triunfo da religião”. In: O triunfo da religião, precedido de Discurso aos católicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005, p. 72.
[15] Idem.
[16] Idem, p. 63.
[17] Idem, p. 65.
[18] Idem, p. 66.
[19] Idem, p. 67.
[20] Brague, R. “Entretien sur l’Islam”. In: Ornicar? Croire – Revue du Champ freudien, n. 57, p. 63-64, 2023.
[21] Idem.
[22] Freud, S. (1930). “O mal-estar na cultura”. In: Obras incompletas de Sigmund Freud. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
[23] Idem, p. 318.
[24] Lacan, J. “Yale University – Entretiens avec des étudiens. Réponses à leurs questions. 24 novembre 1975”. In: Scilicet, n. 6/7, 1976, p. 32.
[25] Lacan, J. (1966) “A ciência e a verdade”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 883.
[26] Idem, p. 885.
[27] Idem.
[28] BÍBLIA. Efésios. In: Bíblia Sagrada. São Paulo: Editora Vida, 2021. Efésios 3:5.
[29] Lacan, J. (1966) “A ciência e a verdade”. Op. cit., p. 887.
[30] Idem, p. 887.
[31] Lacan, J, (1969-70). O Seminário, livro 17: O avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 113.
[32] Idem, p. 107. A esse respeito, ver também: Lacan, J. (1971-72). O Seminário, livro 19: …ou pior. Op. cit., p. 44, onde se diz que o mito de Totem e tabu foi feito para mostrar que “o gozo sexual será possível, mas será limitado”.
[33] Freud, S. (1921) “Psicologia das massas e análise do Eu”. Op. cit.
[34] Idem, p. 215.
[35] Idem, p. 14.
[36] Idem.
[37] Idem.
[38] Idem, p. 175.
[39] Freud, S. (1930). “O mal-estar na cultura”. Op. cit.
[40] Idem, p. 367.
[41] Laurent, É. “Racismo 2.0” In: Lacan Cotidiano, n. 371, 2014. Disponível em: https://uqbarwapol.com/lacan-cotidiano-n-371-portugues/. Acesso em: 01 ago. 2024.
[42] Lacan, J. (1971-72). O Seminário, livro 19: …ou pior. Op. cit., p. 227.
[43] Lacan, J. (1969-70). O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1992, p. 107.
[44] Idem.
[45] Miller, J.-A. “Todo mundo é louco – AMP 2024”. In: Opção Lacaniana: Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, n. 85, p. 8-18, dez. 2022.
[46] Lacan, J. (1948). “A agressividade em psicanálise”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.
[47] Idem, p. 126.
[48] Lacan, J. (1969-70) O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise. Op. cit., p. 226.
[49] Lacan, J. (1971-72) O Seminário, livro 19: …ou pior. Op cit., p. 227.
[50] Lacan, J. “Nota sobre o pai”. In: Opção Lacaniana: Revista Brasileira Internacional de Psicanálise, n. 71, 2015, p. 7.
[51] Lacan, J. (1971-72) O Seminário, livro 19: …ou pior. Op cit.